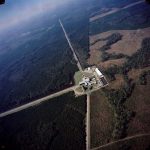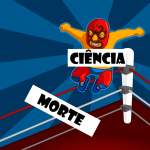#acessibilidade: Usina nuclear de fissão. Duas chaminés ao centro soltam nuvens de vapor, em frente um rio e árvores. Pôr do Sol ao fundo. Fonte: Pixabay
Texto escrito pelos colaboradores José Pedro Pires Gomes e Camilo Andrea Angelucci
O Sol e todas as estrelas geram energia a partir da união entre núcleos de átomos, chamada fusão nuclear. Não se pode confundir com a fissão nuclear, que é a quebra dos núcleos atômicos, processo usado em usinas nucleares atuais. Ambos os processos liberam imensa quantidade de energia, porém funcionam de maneiras opostas.
Diferente da fissão, ainda não existe nenhuma usina de fusão nuclear operando comercialmente no mundo. Isso seria interessante, já que a fusão poderia usar materiais derivados da água do mar, como o hidrogênio em vez de urânio, além da vantagem de alcançar um rendimento energético maior. Resta uma pergunta: se essa forma de gerar energia é tão poderosa, o que nos impede de usar aqui na Terra?
A resposta está na natureza dos átomos. Os núcleos atômicos são compostos por partículas de cargas iguais, e por isso se repelem fortemente. Essa repulsão torna praticamente impossível fundir dois núcleos em condições normais.
No interior do Sol, porém, as condições são muito diferentes: a temperatura é 15 milhões de graus Celsius e a pressão cerca de 340 bilhões de vezes a que experimentamos nesse momento. Essas condições tão extremas permitem que os núcleos se aproximem o suficiente para se fundirem. Lembrando que temperaturas elevadas aumentam a agitação das partículas, o que eleva a chance de colisões e pressões altíssimas forçam os núcleos mais próximos, favorecendo o processo.
Muita pesquisa vem sendo feita para reproduzir essas condições que simulam o Sol em um laboratório. Muitos avanços já foram alcançados nesse sentido, mas o desafio hoje é gerar mais energia do que se consome. E se fosse possível fazer fusão nuclear à temperatura ambiente? Seria de fato uma revolução. Bom, até hoje isso só foi possível usando partículas muito instáveis chamadas múons, que são capazes de reduzir a repulsão entre núcleos. O problema é que produzir múons gasta tanta energia que não vale a pena. Seria possível fazer fusão nuclear em temperatura ambiente, sem o auxílio de múons?
É exatamente isso que foi anunciado em uma conferência de imprensa na Universidade de Utah, Estados Unidos, em 1989. Martin Fleischmann e Stanley Pons, estudiosos na área da eletroquímica, anunciaram ter conseguido realizar a fusão nuclear em temperatura ambiente, com equipamentos relativamente simples. Eles chamaram isso de fusão a frio, em contraste com a fusão a altas temperaturas que ocorre no interior das estrelas.
O experimento era simples em teoria: um pedaço de paládio mergulhado em água pesada (onde o hidrogênio comum é substituído pelo deutério, um hidrogênio com um nêutron extra), com íons lítio dissolvido. Segundo eles, uma corrente elétrica faria os átomos de deutério se acumularem dentro do paládio até atingirem pressões suficientes para se fundirem.
Apesar de parecer improvável, o anúncio foi levado a sério. Fleischmann era uma autoridade na área e ambos cientistas alegaram ter medido calor excessivo, radiação gama e nêutrons, evidências de fusão nuclear. Se fosse verdade, seria questão de tempo até a fusão a frio substituir todos os combustíveis fósseis.
Nas semanas seguintes, laboratórios ao redor do mundo tentaram reproduzir os resultados, em muitos casos com um forte viés de confirmação. Mesmo assim, poucos tiveram algum sucesso e mesmo nesses casos os resultados logo foram explicados por erros experimentais (os sensores não eram suficientemente precisos ou estavam com defeito) ou os dados obtidos não demonstravam claramente que a fusão a frio ocorria. Além disso, havia contaminação de elementos radioativos, e nem mesmo os termômetros eram confiáveis considerando a forma como Fleischmann e Pons usaram (que mediam apenas um ponto em um sistema com temperatura desigual).
Ainda assim, por um breve período a fusão a frio tomou a capa dos jornais e até o congresso dos Estados Unidos recebeu Pons e Fleischmann, que solicitaram 25 milhões de dólares para dar continuidade à pesquisa. Mas os erros experimentais dos dois ficaram evidentes nas semanas seguintes, e a ideia foi descartada pela maioria e a credibilidade dos pesquisadores desmoronou.
Como tantos erros passaram despercebidos?
Acontece que a ciência não seguiu seu curso normal. A pesquisa não estava completa quando um outro laboratório, liderado por Steve Jones (que trabalhava com fusão usando múons) descobriu os resultados de Pons e Fleischmann e começou a tentar os mesmos experimentos. As equipes combinaram de divulgar seus resultados ao mesmo tempo, mas a Universidade de Utah quis garantir crédito exclusivo da descoberta e convenceu os cientistas a publicarem primeiro. O artigo foi escrito às pressas e sem passar pelo processo rigoroso de revisão por outros cientistas, conseguiram que o artigo fosse aceito e publicado numa revista da área (Journal of Electroanalytical Chemistry).
O problema depois se mostrou ainda mais grave, pois descobriu-se que os autores haviam modificado dados de emissão de radiação no último momento, sem nenhuma explicação. A maior parte do calor excessivo relatado era na verdade apenas uma projeção teórica, quando na verdade os valores reais eram muito inferiores e poderiam ser atribuídos a erros experimentais. A modificação das medidas de radiação estão bem documentadas no capítulo 7 do livro Too hot to Handle: The Race for Cold Fusion, de Frank Close (1991). A discussão sobre o fato do calor alegado ser apenas uma projeção teórica é descrita no capítulo 8 do mesmo livro.
Apesar de todo o descrédito da comunidade científica, alguns poucos pesquisadores continuaram a acreditar na veracidade da fusão a frio. O governo de Utah ignorou o consenso científico e investiu milhões de dólares, até desistir em 1991. A Toyota financiou pesquisas de Fleischmann e Pons até 1998. Fleischmann faleceu em 2012 ainda defendendo a ideia. Já Pons se mudou para uma fazenda no sul da França e nunca mais fez aparições públicas.
Hoje, existem pesquisas bem embasadas em áreas semelhantes, mas partindo de outras premissas, usando o nome “reações nucleares de baixa energia”.
O caso da fusão a frio mostra a importância de seguir os métodos da ciência com o rigor necessário, mesmo quando as descobertas parecem promissoras. Nos lembra que sempre devemos abordar uma pesquisa evitando viés de confirmação ou negação. Serve também como um lembrete da importância do ceticismo, até mesmo diante de pessoas de renome Como disse Carl Sagan: “Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias”.
Fontes:
Artigo original de Pons e Fleischmann (em inglês): Fleischmann, M., S. Pons, and M. Hawkins, Electrochemically induced nuclear fusion of deuterium. J. Electroanal. Chem., 1989. 261: p. 301 and errata in Vol. 263. Disponível: https://lenr-canr.org/acrobat/Fleischmanelectroche.pdf
O documentário “Cold Fusion: Birth, Death and Limbo” narra detalhadamente toda a história da controvérsia de Pons e Fleischmann (apenas em inglês):
- Parte 1: https://youtu.be/jn92eWhGG14?si=dLAJ18EgYSkgBP41
- Parte 2: https://youtu.be/EbfJFPVApu8?si=SAucF8D1DPvmRZiv
- Parte 3: https://youtu.be/KWlBZT7L1qM?si=4Zz1ADACv68aEdRt
Livro de Frank Close “Too Hot to Handle: the Race for Cold Fusion”, publicado apenas em inglês, a tradução do título seria “Quente demais para manejar: a corrida pela fusão a frio”. Editora Princeton University Press, 1991.
Texto sobre a natureza do Sol no blog da UFRGS: https://www.if.ufrgs.br/ast/solar/portug/sun.htm
Para saber mais:
Discussão sobre o atual estágio da fusão nuclear na Revista Questão de Ciência: https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/artigo/2022/12/15/por-enquanto-fusao-nuclear-e-so-hype
Editorial da revista Nature Materials discute legado positivo da fusão a frio: os materiais usados (apenas em inglês): https://www.nature.com/articles/s41563-019-0530-1
Fusão a frio usando múons (legendado em português): https://youtu.be/aDfB3gnxRhc?si=38x6Ztbf7qufsQTJ